SÃO TOMÁS DE AQUINO, UMA HERANÇA
Segue, em tradução portuguesa, um artigo de La Civiltá Cattolica, sobre São Tomás de Aquino. Embora um tanto denso, devido ao seu teor filosófico, teológico e histórico, merece apreço e divulgação.
***
Receber uma herança
Quando recebemos
uma herança, podem acontecer várias coisas, e coisas muito diversas: podemos,
em último caso, ignorar, inclusive, que a possuímos, e, assim, outros ficam com
ela em nosso lugar. Podemos dividi-la entre parentes e amigos, e, deste modo,
cada um fica com um pedacinho; mas o valor residia na totalidade da herança e,
desta forma – fragmentada – ela se dispersa de alguma maneira, perdendo sua
grandeza. É possível, também, com
o capital recebido, organizar uma grande festa em memória do parente abastado
ou fazer um belo cruzeiro: deste modo, o evento concebido consome os
recursos ganhos, e tudo logo se acaba. Podemos recebê-la e, como o servo medroso
do Evangelho, enterrá-la: guardarmos, em um banco, o que recebemos, mas, do
mesmo modo, sem investi-la, nem sequer dará fruto. Ou podemos pegá-la, fazê-la
crescer, redistribuí-la em novas aquisições, ampliando a sua eficácia com
experiências e dimensões desconhecidas pelo próprio falecido.
O mesmo acontece com o legado de São Tomás de Aquino, neste 800º aniversário do seu nascimento[1]. Estamos perante um gigante do pensamento, do qual nos separam séculos de história, tanto civil quanto eclesiástica. Sua reflexão se estendeu a todas as áreas do conhecimento humano, pelo menos às daquela época, e inumeráveis são os autores que, em diferentes épocas e até nos nossos dias, referem-se a ele, mostrando a perene vitalidade do seu impulso intelectual e prolongando a capacidade expansiva das suas intuições e dos seus raciocínios. Por vezes, o seu pensamento foi respeitado e preservado, desenvolvendo-se corretamente, outras vezes foi enlameado, encurralado em esquemas bastante ideológicos, com um tomismo como doutrina “oficial”, atrás da qual pouco ficava, no entanto, do autêntico pensamento tomista. A história da recepção do pensamento de Tomás, mesmo quando foi distorcido, é tão interessante quanto a história dos efeitos da sua autêntica contribuição: realmente, pode se dizer que ele continua sendo um autor absolutamente imprescindível para qualquer pessoa que deseje abordar não só o pensamento medieval, mas também o moderno e o pós-moderno, oferecendo chaves de leitura crítica, legitimamente sustentáveis nos nossos dias.
Um modo de ser mais do que de pensar
Não se podem fazer comparações entre
personalidades tão eminentes, mas certamente a leitura de Santo Agostinho é
mais emocionante do que a do Aquinate: no bispo de Hipona, há um anseio, uma
sede, uma busca, um caminho humano e espiritual que muito tem em comum com o
homem moderno, e, por isso, algumas das suas páginas são, até mesmo
estilisticamente, intemporais e pertencem, antes que à teologia, à literatura
mundial. Tomás já é sereno, tranquilo, comedido no tom e na expressão: trata, de fato, de aulas
universitárias, quer seja na forma de exposição de um texto, sagrado ou
profano, quer seja na forma de um comentário, ou, por fim, de uma aula
propriamente dita, em forma de debate e confronto, como se vê na Summa
Theologiae, sem dúvida a sua obra monumental por excelência.
A exposição clara
dos argumentos, a favor e contra, a solução das dificuldades remanescentes, a determinatio
magistralis, isto é, a solução proposta pelo mestre, certamente não impressionam,
no íntimo, o ouvinte como o relato da experiência da Graça que abalou Agostinho;
ainda hoje, fascinante e comovente. Mas enganar-nos-íamos se quiséssemos
relegar Tomás para o canto triste e cinzento de uma experiência cultural
simplisticamente chamada de “escolástica”,
quase para enfatizar uma espécie de mentalidade infantil erigida em
sistema filosófico.
Um exemplo: “A
verdade não muda de acordo com a pessoa que a diz, portanto, se alguém afirma o
que é verdadeiro, não pode ser vencido por ninguém em um debate”[2]. Esta afirmação testemunha
a liberdade intelectual de um homem que não pertence a nenhuma escola e não
está sujeito a nenhuma dependência psicológica ou intelectual, exceto àquela
que deveria nos unir a todos: a busca da verdade, do justo, do bem; em última
análise, a busca de Deus, conhecido pela fé e procurado e encontrado nas suas relações
com toda a realidade criada[3]. Não se trata de uma
expressão retórica, nem cheia de emoção, mas que contém, em seu núcleo, um
olhar claro sobre as coisas, uma paz tão profunda com os outros e com o mundo, a
nos permitir captar algo da alma do Santo, que parece, assim, ter vivido o que
o Apóstolo Tiago escreve sobre a sabedoria que deveria estar na Igreja, ou seja,
entre homens e mulheres que encontraram a Cristo, a suma verdade e o seu princípio:
“A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura; e, além disso, pacífica,
benévola e conciliadora; está cheia de misericórdia e disposta a fazer o bem; é
imparcial e sincera” (Tg 3,17)[4]. No fundo, trata-se de um
olhar contemplativo sobre a existência, mais próxima à bem-aventurança do que a
uma emoção.
Esta é uma herança importante que deveríamos reconhecer e aceitar: em tempos nos quais é tão fácil sucumbir a lógicas opostas ou excludentes, a tons depreciativos e gritantes, os intelectuais cristãos podem aprender de Tomás a não ter inimigos, e a não sê-los entre si. Um testemunho muito significativo pode ser o de Rudolf von Jhering, jurista protestante do século XIX, que assim escrevia a um crítico católico que lhe indicava a existência da Summa Theologiae: “Continuo maravilhado me interrogando como foi possível que tais verdades, depois de terem sido abertamente proclamadas, tenham caído de modo tão completo no esquecimento na nossa cultura científica de raiz protestante. Quantos erros poderiam ter sido evitados se as tivéssemos tido na devida conta”[5].
A escola do seu tempo
Pode causar um
pouco de riso o breve Prólogo da Summa, no qual Tomás afirma que se
propõe tratar do que diz respeito à religião cristã de uma maneira adequada à
instrução daqueles que começam a estudar, para os “noviços”, como ele os chama:
de fato, a obra não está destinada a intelectuais experientes ou doutores, mas
a simples estudantes, e àqueles que se acham tão somente no início[6]. Estes, segundo o Santo,
podem ver o seu estudo dificultado de muitas maneiras: em parte, pela
multiplicação de questões inúteis, dos artigos que as desenvolvem e das múltiplas
argumentações; e também, em parte, porque as coisas necessárias para o
conhecimento não são expostas segundo o que a ordem da disciplina requereria,
mas na medida em que surgem, na exposição dos livros ou de acordo com a ocasião
da disputa; e também porque a sua repetição frequente gera fastio e confusão nas
mentes dos ouvintes.
Quem sabe o que
São Tomás diria a nós, hoje, habitantes da floresta sombria das fake news, dos livros instantâneos, de
uma cultura muitas vezes fracassada
e submetida a teses preconcebidas. Tudo isto é levado a cabo, tanto hoje
como então, obscurecendo algumas verdades que ainda poderiam ser ditas, mas das
quais não se tem a coragem de fazê-lo, e, pelo contrário, exagerando outras,
perdendo, assim, de vista a objetividade e o equilíbrio nesse panorama geral da
informação e da reflexão que chamamos de “cultura”. O domínio dos centros de
produção cultural foi, e continua sendo, um fato imperativo: quem controla as editoras, o teatro,
a literatura com os seus prêmios, a informação e a universidade, possui, de
fato, as chaves do futuro de uma comunidade, determinando o seu presente[7]. O mesmo vale – por
extensão, e possivelmente muito mais –, para a televisão e para redes sociais.
De fato, o que
pode parecer obsoleto, é, na realidade, uma herança a recuperar, é o gosto
pelas interrogações: a Summa é, com efeito, um livro de perguntas e não
um conjunto de respostas, como muitas vezes foi apresentado. Esta é uma
característica distintiva da escola medieval, uma invenção típica do
cristianismo[8].
Tomás é impensável sem a universidade e, portanto, a compreensão do método da
Escola de Paris, por ele adotado, é a chave para compreender não só o seu
pensamento, que lhe pertence como tal e não a uma escola, mas também o seu modo
intelectual[9]
de proceder; e é também uma herança que devemos receber.
Portanto, no
centro está a pergunta e não a resposta, o debate e não a autoridade: a philosophia
perennis não se refere à perenidade das respostas, mas das perguntas. Um
dos clichês mais repetidos é precisamente o fato de que, na Idade Média, o
princípio de autoridade era tudo e resumia cada argumento. Contudo, o próprio
Tomás afirma que a autoridade, em assuntos humanos, não faz a verdade de uma
afirmação[10].
Seria interessante refletir sobre
o mutante rosto da autoridade que cria a verdade, sobretudo em um mundo
dominado por uma cultura de meios de comunicação de massas e condicionado por muitos
lobbies, que também determinam o pensamento e a mentalidade. A
necessidade de estar na moda e o receio de ser retrógrado, o oportunismo e o
peso da política ou dos “poderes instituídos”, como são chamados, exercem, de
fato, um condicionamento significativo, muito mais do que alguém poderia pensar;
as lógicas acadêmicas ou
editoriais e a idolatria à audiência enquanto público – não só televisiva –
fazem com que alguém se descubra, por assim dizer, quem é pelo artigo que vende.
Uma vez mais, a liberdade intelectual de Tomás é um legado também para
hoje, sobretudo se o trabalho intelectual for concebido como um verdadeiro
serviço à comunidade, para ajudar as pessoas a se libertarem de reflexos
condicionados ou de uma mentalidade submetida a interesses alheios. Assim, um
intelectual honesto deveria ser capaz de desmascarar fórmulas ou análises
superficiais, que sobrevivem apenas
nos boatos das escolas ou na repetição de slogans.
Em suma, São Tomás
nos recorda a obrigação de pensar com a nossa própria cabeça e não se deixar sofrer
uma lavagem cerebral, como se costuma dizer. Isto pode ser comparado ao sapere
aude kantiano (“atrever-te a pensar”), ainda que refletido em chave
pós-moderna: ousar sair, se for necessário, daquilo que querem te fazer pensar
e tentar pensar por ti mesmo. E tentar pensar bem, porque só pensar não é
suficiente para pensar bem.
A quaestio reproduz uma lição, quer dizer, um debate escolástico medieval, e é um relato seu. A partir daqui, podemos extrair para os nossos dias um método intelectual rigoroso, que se especifica do seguinte modo: o recurso às autoridades, às opiniões autorizadas para as quais todos convergimos, nunca pode assumir o tom peremptório de um Roma locuta, causa finita [Roma fala, causa encerrada], mas é o início de um desenvolvimento dialético do problema, confrontando e analisando os diferentes pontos de vista. As diferenças entre os vários autores devem ser tematizadas, seus caminhos lógicos examinados com rigor, para se chegar, por fim, a uma resposta. Esta nunca pode ser uma solução de convenção, que é um absurdo lógico: se são afirmadas coisas diferentes, um terá razão e o outro estará equivocado; no entanto, é necessário entender o porquê e em que âmbito se desenvolvem as diferentes razões de cada um. Este é o sentido da determinatio magistralis, do ensinamento do mestre, que “de-termina”, põe fim à questão, especificando os termos, os limites, os âmbitos próprios do valor das diferentes teses opostas, dos argumentos aduzidos, para salvá-los na medida do possível, segundo aquele olhar pacífico próprio de um verdadeiro intelectual cristão. Aprendamos a distinguir para salvar as razões do outro, inclusive se, precisamente para salvá-las, tenhamos de delimitar sua aplicação a um âmbito particular.
Elaborar uma cultura cristã
Mais importante do que todos estes legados que Tomás nos
deixou, permanece um outro aspeto de sua obra, o desafio que enfrentou: a
elaboração de uma cultura cristã, do mesmo modo necessária para o nosso tempo.
Naturalmente, ele se situa, aqui, seguindo os passos dos Padres da Igreja e dos
grandes Doutores que o precederam: sobretudo Santo Agostinho, que supera a
todos pelo número de citações. No entanto, sua obra adquire um significado
muito mais peculiar do que a deles. Os santos Padres, com efeito, elaboraram
uma cultura cristã sobre as ruínas do mundo antigo, isto é, pagão, e assentam,
assim, as bases para essa cristandade, quer dizer, da Europa, que devia emergir
do colapso do velho mundo, fundindo, na unidade, a herança dos três pilares do
mundo antigo: o Pártenon, o Capitólio e o Gólgota. Neste sentido, sua obra foi
verdadeiramente criadora de cultura e determinante para a própria identidade dos europeus de
hoje.
Tomás, em contrapartida,
escreveu em uma época, o século XIII, na qual, pela primeira vez, depois de
séculos, vemos brotar no continente uma doutrina completa e sistemática, a aristotélica, que oferece uma
visão total e perfeita do mundo, do homem, da cidade, que prescinde
absolutamente de Deus, bastando-se em si mesma[11]. O perigo de uma completa
secularização do pensamento, como poderíamos dizer hoje, era real. Non
regnat Spiritus Christi ubi dominatur spiritus Aristotelis[12],
afirmava André de São Victor; e, de fato, nas Universidades – essa criação dos
fins da Idade Média, tão diferente da anterior escola catedralícia e capitular
e do sistema do trivium e do quadrivium, herdado da escola antiga
– se começava a respirar esse espírito inovador e perigoso.
A Igreja poderia
ter-se fechado, entrincheirando-se na defesa de um passado já irrecuperável,
lamentando, como Guilherme de Saint-Thierry,
os perigos desses últimos tempos[13]. São Tomás enfrentou este
desafio: ele não batizou Aristóteles, como, às vezes, se afirma, e isto para
nós significa que, como intelectuais, não devemos batizar aqueles que não queiram
ser batizados. Pelo contrário, ele compreendeu Aristóteles pelo que este dizia
e explanou o seu próprio pensamento em termos aristotélicos, não repetindo o
que o Estagirita afirmava, mas criando, por meio da interação entre o Evangelho
e os textos antigos, um pensamento novo. Assim, por exemplo, Tomás ultrapassa a
categoria da substância,
critério explicativo do real suficiente para Aristóteles, através da
mediação do texto do Êxodo: “Eu sou o que sou” (Ex 3,14), que se tornará a chave para a elaboração da sua
metafísica, o actus essendi, o “ato de ser”, a fundamentar as
existências singulares criadas. São Tomás elabora uma nova metafísica com a
Bíblia: com ela, inverte a metafísica aristotélica, passando, sim, por ela, mas,
enfim, superando-a.
Neste sentido,
poderíamos extrair de São Tomás um método para desenvolver uma cultura
católica, que não consiste em
achatar-se, adotando concepções de outros, nem de se endurecer na defesa
de um sistema concebido como um círculo fechado, mas em desenvolver a nossa
própria identidade, tematizando as diferenças em relação às outras culturas e
religando a diversidade católica com o próprio Evangelho, que sempre transcende
toda cultura e a abre a novas possibilidades de expansão. Para poder fazer isso
de maneira frutuosa, é necessário um duplo exercício: na cultura contemporânea,
naquilo que ela é; e no texto sagrado, na página sagrada, na Tradição elaborada e vivida
pela Igreja. Assim, Tomás, justamente porque possuía um conhecimento incomum de
Aristóteles, que nem sequer os eruditos do seu tempo tinham, soube, com suas
categorias e seu pensamento, expressar a fé cristã que viveu e celebrou no
culto, carregando ou enriquecendo as palavras antigas com novos significados, adaptando e
transformando o seu sentido, criando, assim, cultura. Deste modo, podem
se destacar, ao mesmo tempo, os
germens do Evangelho, as sementes do Verbo, presentes em cada cultura, e
a autêntica sede do Absoluto que ela expressa naqueles que de acordo com a
tradição, e, talvez, superficialmente, são vistos como “distantes”. Todavia,
também se pode entender porque é que eles não chegaram, nem podiam chegar, a
ela.
Uma das razões da incredulidade contemporânea é, de fato, a escassa porosidade ou comunicação recíproca dos diversos campos da reflexão humana com a própria fé e a linguagem da Igreja, em um mundo que se tornou hermético[14]: por isso, parece a muitos que não se pode ser cristão e pessoa culta ao mesmo tempo, tendo quase de escolher entre ser habitantes do seu tempo ou nostálgicos de uma realidade que se foi. Contribuir para restabelecer esta comunicação, um verdadeiro diálogo entre as culturas, é, no entanto, uma fonte inesgotável de riqueza para cada comunidade e parece ser uma prioridade dos nossos tempos. Já afirmava o santo Papa Paulo VI: “A ruptura entre o Evangelho e a cultura é, sem dúvida alguma, o drama do nosso tempo, como o foi também em outras épocas. Por isso, é preciso fazer todos os esforços com vistas a uma generosa evangelização da cultura, ou, mais exatamente, das culturas. Estas devem ser regeneradas pelo encontro com a Boa-Nova. Mas este encontro não ocorrerá se a Boa-Nova não for proclamada”[15].
Em continuidade
Outra herança
importante do pensamento de São Tomás é a consciência de sermos filhos de uma
busca que não começou conosco: não somos o cume ou o vértice do pensamento, mas
nos movemos dentro de um caminho de muitos, em um esforço comum que nos precede,
que nos acompanha e que nos sucederá.
Não existe um “eu penso” absoluto: há um “eu penso junto a ti”, no qual
o eu e o tu se aludem mutuamente: a relação fundamenta a identidade da pessoa
e, portanto, o pensamento.
Fazemos parte de
uma tradição, no melhor sentido do termo, para a qual todas as gerações
contribuíram. Assim Tomás o expressa: “Os antigos filósofos, lentamente, e
quase passo a passo, chegaram ao conhecimento da verdade”[16].
Pelo contrário, o
mundo moderno encontra a sua marca característica em Descartes, que, no início
do seu Discurso do Método, após narrar a confusão na qual se encontrava
depois de ter frequentado tantas e tão diferentes escolas, certo dia, tomou a
decisão de empreender um novo caminho[17]. A partir daqui, começará
uma nova forma de se relacionar com a experiência, partindo do sujeito. O
sentido da singularidade, da individualidade e da irrepetibilidade da própria
experiência, já exaltado por Lutero com o livre exame das Escrituras e a com a subestimação
da mediação eclesial, triunfará, mais tarde, na visão historicista pós-hegeliana, na pretensão de
cada um de constituir, naquele momento, o cume histórico do pensamento, a
manifestação mais madura do espírito. No mito da história como progresso, se aninha a presunção
de que esta culmina na sua própria interpretação, ou, na linguagem comum das
escolas, no estado atual da questão: a história culmina na sua própria
história.
À presunção do “eu penso”, prefiramos a gratidão para com aqueles que pensaram antes de nós. Não para repeti-los, mas para entendê-los e, assim, dar nova vida às suas intuições em um mundo também muito diferente do deles. Uma herança que segue sem fim.
Ottavio de Bertolis, Sacerdote da Companhia de Jesus, atualmente é o capelão da Sapienza Università di Roma. É autor de numerosas publicações sobre Filosofia do Direito e Espiritualidade, que representam seus principais interesses. Entre elas: Elementi di antropologia giuridica (Esi, 2010); L’ellisse giuridica (Cedam, 2011); La moneta del diritto (Giuffrè, 2012).
Tradução: Vanderlei de Lima
/ Revisão: Thamara Rissoni.
[1] Na realidade, não sabemos a data
do nascimento de Tomás, que pode situar-se entre 1224 e 1226, mas, em
contrapartida, sabemos, com certeza, a data de sua morte, 7 de março de 1274,
quando se dirigia para o II Concílio de Lião. Foi proclamado santo pelo Papa
João XXII em 1323. Cf. J. A. Weisheipl, Tommaso d’Aquino. Vita,
pensiero, opere, Milano, Jaca Book, 2016.
[2] “Veritas ex diversitate personarum
non variatur, unde, si aliquis veritatem loquitur, vinci non potest cum
quocumque disputet” (Expositio in Iob, XIII,19).
[3] Na Summa, de fato, tudo é
abordado a partir de Deus: ou porque se trata do próprio Deus ou porque se chega
a Ele como princípio e fim. Cf. Summa Theologiae, q. 1, a. 7: “Omnia
autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei vel quia sunt ipse Deus;
vel quia habent ordinem ad Deum ut ad principium et finem”. E depois: “Omnia
quae sunt a Deo ordinem habent ad invicem et ad ipsum Deum” (ibid., I, q. 47,
a. 3). Como é sabido, Dante retomará esta afirmação no Paraíso, I,
103-105, elevando-a à mais alta poesia: “Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l’universo
a Dio fa simigliante” (As coisas todas têm ordem entre si, e esta é a forma que
o universo se torna semelhante a Deus). Por isso, Santo Inácio de
Loyola, que estudou Tomás em Paris, pode fazer do “buscar e encontrar Deus em
todas as coisas” o sentido próprio e o fim da sua espiritualidade.
[4] “Pura”, quer dizer não mesclada
com outras considerações parciais (políticas, intelectuais, de conveniência
acadêmica); “pacífica”, porque é promotora da paz, um instrumento de diálogo, buscando
a verdade e a justiça no pensamento de cada um, mesmo se ele está longe das
suas próprias posições, e, além disso, não é proclamada aos gritos, não é brandida
como uma espada. Daqui, decorrem todas as suas outras características.
[5] M. Villey, La formazione del
pensiero giuridico moderno, Milão, Jaca Book, 1986, 121. Trata-se, aqui, em
particular, do direito entendido como uma ciência prática, baseada no fim, e
não teorética, ou seja, construída a partir de princípios.
[6] Aqui Tomás se faz eco de São Paulo
que, ao escrever aos Coríntios, afirma: “Alimentei-os com leite e não com
alimento sólido, porque ainda não podiam tolerá-lo, como não o fazem agora” (1Cor 3,2). Cf. Prologus della
Summa.
[7] A tese de Antônio Gramsci sobre
este assunto é demasiado conhecida para ser citada explicitamente aqui.
[8] “O verdadeiro fundador da
Universidade de Paris é Inocêncio III, e aqueles que asseguraram o seu
posterior desenvolvimento, dirigindo-a e orientando-a, são os sucessores de
Inocêncio III, especialmente Gregório IX. A Universidade de Paris poderia ter-se
estabelecido, inclusive, sem a intervenção dos papas, mas é impossível
compreender o que lhe assegurou um lugar entre todas as universidades medievais
se não se tem em conta a intervenção ativa e o desígnio religioso claramente
definido pelo papado” (E. Gilson, La filosofia nel Medioevo, Florença,
La Nuova Italia, 1990, p. 473). O autor continua: “É um elemento da Igreja
universal exatamente no mesmo sentido e com o mesmo significado que o
sacerdócio e o Império” (ibid., p. 476).
[9] “Não há uma só das grandes obras
de São Tomás, com possível exceção da Summa contra gentiles, que não
tenha surgido diretamente do seu ensino ou que não tenha sido expressamente
concebida com o propósito de ensinar” (E. Gilson, La filosofia nel Medioevo,
cit., 481).
[10] “Locus ab auctoritate
infirmissimus” (Summa Theol., I, q. 1, a. 8, ad 2).
[11] “O sistema aristotélico mostra que
é possível apresentar uma visão integral e orgânica das leis físicas e
metafísicas do mundo, prescindindo completamente dos conteúdos da Revelação e
do pensamento cristão tradicional” (M. Fumagalli Beonio Brocchieri – M. Parodi,
Storia della filosofia medievale. Da Boezio a Wyclif, Roma – Bari,
Laterza, 1996, 262). E Chenu afirma: “O próprio universo aristotélico parecia
inconciliável com a concepção cristã do mundo, do homem, de Deus; sem criação,
um mundo eterno, abandonado ao determinismo, sem que um Deus providente conheça
suas contingências, um homem atado à matéria e, como ela, mortal, um homem cuja
perfeição moral permanece alheia aos valores religiosos. Uma filosofia dirigida
para a terra, já que mediante a negação das ideias exemplares, cortou qualquer
caminho para Deus e dirigiu para si mesma a luz da razão” (M. D. Chenu, Introduzione
allo studio di San Tommaso d’Aquino, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina,
1953).
[12] Em PL 211,34.
[13] O livro se intitula De
periculis novissimorum temporum, e nele se estigmatiza a pouca fé de seus
tempos, nos quais se veem estas novas criaturas, franciscanos e dominicanos, a ingressarem nas universidades,
como estudantes e, inclusive, a ocuparem cátedras, animados por uma insana curiositas
intelectual, vivendo um estilo de vida religioso incomum e escandaloso.
[14] Cf. Ch. Taylor, L’età secolare,
Milão, Feltrinelli, 2009, 44. A obra deste autor católico é um exemplo de
atualização do método e da perspectiva de São Tomás, e é o que geralmente se percebe
como ausente na contemporaneidade. Cada um tende a se fechar na sua própria
esfera, na sua própria universidade, no seu próprio mundo, o que conduz a um
empobrecimento geral do pensamento.
[15] Paulo VI, S., Evangelii
nuntiandi, n. 20.
[16] Summa Theol., I, q. 44, a.
2: “Antiqui philosophi paulatim et quasi pedetentim intraverunt in cognitionem
veritatis”. Nesta passagem, encontramos uma verdadeira história da filosofia:
desde os pré-socráticos, que se detinham na causa material, até Platão, que não
considerava a matéria, e, depois, a Aristóteles, que identifica a substância
como categoria fundamental. Em um opúsculo de São Tomás, De substantiis
separatis, sobre os anjos, sua história da filosofia se enriquece ao
considerar seus ulteriores desenvolvimentos, ou seja, da filosofia árabe, ressaltando
seus êxitos e aporias. Tomás se vê
como parte de uma história humana que não se limita apenas à christianitas
e que está totalmente dedicada à busca da verdade. A partir desta perspectiva,
mesmo os erros são parte benéfica de um esforço comum.
[17] Cf. S. Th. Bonino, “Être thomiste”, en B. D. de la Soujeole – S. Th. Bonino – H. Donneaud, Thomistes ou de l’actualité de Saint Thomas d’Aquin, París, Parole et Silence, 2003, 15.
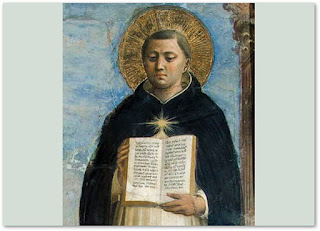



Comentários
Postar um comentário